1. O que é o Enativismo? Em que campo ele está inscrito? Quando pesquisei sobre o tema, vi uma entrevista do Giovanni Rolla e li um artigo dele em que ele faz um definição em contraste com a tradição cognitivista de pensar a mente/cérebro humana como se fosse um computador, que combina e articula as informações visuais recebidas (isto é, essa “computação” processaria/interpretaria aquilo que a gente vê e transformaria essas informações em pensamentos/representações).
Enfim, o Enativismo traz outra explicação para esse processo, não é?
Olá, sim o Enativismo pode ser bem compreendido em contraposição com a tradição cognitivista que sugere que a mente é análoga a um computador que processa informações. O cognitivismo é um conjunto de premissas e nem todos os teóricos defendem o conjunto todo, mas as ideias de que mente está no cérebro e de que ela opera essencialmente por meio de representações por exemplo são premissas bastante comuns que o enativismo questiona.
A proposta enativista é que somos seres complexos em constante processo e que nossa cognição deve ser compreendida a partir da nossa relação, como organismos, com o ambiente em que vivemos, pois é por meio das ações dos organismos em seus ambientes que a cognição ocorre.
E o ambiente é parte dos processos cognitivos. Assim, o pensar não está no cérebro, do mesmo modo que o voar dos pássaros não está nas asas e o dançar não está nas pernas, mas sim na complexa dinâmica que envolve o corpo, suas partes (incluindo o cérebro) e habilidades, o ambiente no qual ele está inserido, seu histórico de ações, dentre outros elementos. No caso dos humanos, há dimensões orgânicas, sensório-motoras e intersubjetivas que constituem as experiências de cada um e envolvem questões afetivas, sociais, políticas etc. A cognição é compreendida como relacional, processual e emergente de um sistema complexo que engloba muitos fatores. O enativismo é uma teoria filosófica que surgiu da intersecção entre filosofia, biologia e psicologia com a reconhecida obra seminal de Varela, Thompson e Rosch: The Embodied Mind (A mente corporificada). Ela tem exercido crescente influência nas ciências cognitivas, incluindo a psicologia cognitiva e social, a linguística, a pedagogia, a neurociência cognitiva e também a biologia, antropologia cognitiva, além de áreas da computação, como robótica e inteligência artificial, inspirando o desenvolvimento de sistemas adaptativos, dentre outros campos de pesquisa. Podemos associar o enativismo a um conjunto de teses que envolvem cognição corporificada ou incorporada, enação (enaction) ou cognição exercida (enacted), mente estendida, cognição situada, dentre outras vertentes que são classificadas como pós-cognitivistas. As diferenças no nome representam algumas diferenças teóricas, mas podemos compreender o enativismo como parte de um movimento científico mais geral conhecido amplamente como cognição corporificada.

2. Pode dar exemplos de explicações sobre a capacidade cognitiva humana que essa corrente de pensamento oferece?
Cada teoria oferece um tipo de explicação para os fenômenos estudados. São muitos os casos de divergência teórica. Alguns exemplos de concepções diferentes em abordagens cognitivistas e enativistas são, a percepção, a imaginação e a interação.
Perceber, em uma concepção tradicional cognitivista, é receber estímulos do ambiente e processar internamente esses estímulos. No caso das concepções pós-cognitivistas a percepção é considerada ativa e participativa, isto é, os organismos percebem ao agir no ambiente e participam de certo modo da criação da realidade percebida. A gente pode compreender isso mais ou menos assim: imagine uma fonte de luz e um objeto compondo um ambiente. O objeto reflete a luz, certo? Agora, o que isso significa? Aí a pergunta é: para quem?

Se for uma abelha com visão ultravioleta, por exemplo, a sua estrutura vai permitir que ela vá na direção do néctar das plantas, isto é, o animal com seu aparato cognitivo específico, participa da relação luz-objeto-organismo. (Esta é uma explicação bastante simplificada, o leitor especialista pode se interessar por um artigo que escrevi com o Prof. Giovanni Rolla: Bringing forth a world, literally, publicado pela revista Phenomenology and The Cognitive Sciences). O trabalho de Humberto Maturana e Francisco Varela, dois biólogos chilenos, sobre a percepção, mostrou que a percepção é muito mais ativa do que se imaginava. A pressuposição filosófica inicial de que há uma realidade objetiva independente dos organismos e que ela é percebida, ou capturada, pelos organismos teve que ser revista diante da descoberta de que o sistema nervoso é um sistema operacionalmente fechado, isto é, sua operação é influenciada por estímulos externos, mas é determinada pelo modo como a rede neural se organiza diante dos estímulos (por como o organismo age, digamos).
Veja, essa questão muda tudo! Inclusive a pressuposição filosófica de que há uma realidade objetiva independente dos organismos que as percebem. Os enativistas procuram então compreender a realidade a partir de uma perspectiva relacional e sistêmica, em que os seres vivos participam agindo. Os organismos buscam a auto-manutenção, pois tem uma condição natural de precariedade e dependem do entorno para se manter. Esse exemplo é interessante porque nos permite visualizar a magnitude das questões que estão envolvidas; não é apenas sobre a mente, é como compreendemos a nós mesmos como parte do mundo e o mundo como parte de nós.
Uma linha de trabalho bastante importante para o enativismo sobre a percepção é a psicologia ecológica de James Gibson. Ele também nos mostra que a percepção é para a ação. Ao perceber não percebo simplesmente texturas, cores e formas, para compor objetos em minha mente; percebo o que posso fazer com as coisas. Posso pegar uma caneca, posso me apoiar em uma bancada. Antes de saber o que é algo, percebo o que posso fazer com aquilo. Isso, naturalmente, depende da minha constituição física e das minhas habilidades. Então, a percepção é compreendida como um processo relacional envolvendo essencialmente fatores do ambiente e do organismo. Muitos dos avanços que buscamos com esse projeto repousam sobre o conceito de affordance (possibilidade de ação), que foi proposto por Gibson, e que captura essa dimensão relacional entre organismo e ambiente.
E a imaginação, o que é imaginar algo? Cognitivistas diriam que podemos imaginar um elefante, por exemplo, porque representamos um elefante na nossa mente. Os enativistas vão procurar evitar esse tipo de explicação porque preferem descrever esses fenômenos com base nas relações intersubjetivas que ocorrem no histórico de vida de um sujeito. Imaginamos um elefante, por exemplo, porque fomos criados em uma cultura que nos proporcionou experiências com elefantes. Se havia elefantes nos livros infantis aos quais fui submetida, ou se tive a experiência de ver um elefante no zoológico ou em seu habitat natural, tudo isso vai mudar meu modo de imaginar elefantes.
Os aspectos afetivos e sociais estão sempre presentes e devemos evitar um recorte artificial como se houvesse algo simples e objetivo que seja simplesmente imaginar um elefante. Cada um de nós tem uma experiência diferente ao fazer isso.
A discussão proposta por Evan Thompson sobre imagens mentais e sobre a importância da análise fenomenológica para o estudo das imagens mentais é bastante importante aqui. (Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind, Belknap Press of Harvard University Press, 2007). Ele sugere que as experiências são holísticas ao passo que as representações mentais instanciadas por ativações neurais, dado seu caráter pictórico, não possuem essa característica. Veja, é importante esclarecer que os enativistas não rejeitam a importância do cérebro na cognição, mas sugerem que devemos situá-lo como um dos elementos relevantes para a cognição para melhor compreender seu papel.
Outro ponto que vale a pena destacar é que a nossa capacidade cognitiva é essencialmente intersubjetiva, do ponto de vista enativista. Um bom exemplo na psicologia cognitiva é em relação à teoria da mente. Segundo a teoria da mente, que é uma teoria muito reconhecida sobre como compreendemos uns aos outros, nós reconhecemos e inferimos estados mentais de outros (crenças, desejos, intenções etc) em atividades conjuntas. Esse reconhecimento envolveria representar mentalmente os estados mentais de outros. Os enativistas propõem que não é necessário representarmos os estados mentais de outros para que haja compreensão. Eles propõem que em interações nós produzimos sentido de modo conjunto, como se cada um contribuísse com uma parte de algo que só existe a partir da interação e que é algo a mais do que o que cada um de nós contribui: é a dinâmica intersubjetiva. Isso não significa que não podemos aprender a pensar naquilo que outra pessoa pode estar pensando, mas essa prática seria um desenvolvimento cognitivo mais sofisticado que parte de uma capacidade mais básica de produção participativa de sentido. Este é um conceito proposto pela filósofa Hanne de Jaegher. É um trabalho que vale a pena conhecer! Ele compõe a teoria dos corpos linguísticos (Linguistic Bodies: The continuity between Life and Language, de Ezequiel Di Paolo, Elena Cuffari e Hanne de Jaegher, MIT Press, 2018), que é a base a partir da qual estamos trabalhando no núcleo de linguagem do projeto.

Para quem tem interesse em saber mais sobre o enativismo e busca literatura em língua portuguesa, em breve será lançado um livro introdutório que organizamos, Eu, o Prof. Eros Carvalho e o Prof. César Meurer, intitulado Introdução ao Enativismo: Cognição, Corpo, Ambiente e Ação, pela editora da UFU (EdUFU). Atualmente é possível buscar pelo livro do Prof. Giovanni Rolla, A mente Enativa, pela editora Fi.
3. O que se busca com o Enativismo? Como aplicar essa “filosofia de vida” na vida de hoje? (não sei se é correto dizer “filosofia de vida”, se estou reduzindo/restringindo o conceito, se estiver corrija-me, por favor)
O enativismo é uma teoria filosófica sobre a vida, a mente e a linguagem. Ao ser uma teoria filosófica possui teses e hipóteses sobre os tópicos dos quais trata; sobre a natureza desses fenômenos, isto é, sobre o que eles são. Por exemplo, a vida, de uma perspectiva enativista, é concebida como autopoiética, isto é, seres vivos são sistemas que se auto-produzem e se auto-mantém a partir de trocas de energia e matéria com o entorno. Todos os seres vivos são cognitivos em algum grau, pois, em virtude da auto-manutenção, as trocas energéticas são relevantes para eles e essa relevância constitui valor: elas podem ser mais ou menos benéficas. Daí a tese da continuidade entre vida e mente: todo ser vivo tem algum grau de mentalidade. A mente, por sua vez, é concebida como um processo relacional que ocorre por meio das ações (enaction = em ação) dos organismos com o entorno e com outros. Então, agir é agir significativamente porque todos estamos imersos em uma teia de relações no mundo.
Se falarmos em uma filosofia de vida, isso teria um sentido diferente. Seria no sentido de defendermos princípios e agirmos de acordo com um certo conjunto de crenças.
4. Em relação ao seu projeto de pesquisa, quais os objetivos? O que se busca chamar atenção com ele?
Eu vou falar primeiro dos objetivos teóricos. O projeto tem um objetivo geral e vários objetivos específicos. O objetivo geral é trabalhar no desenvolvimento da teoria enativista, seja percorrendo novos caminhos, seja lidando com algumas dificuldades que a teoria apresenta. Os objetivos teóricos específicos se dividem em quatro áreas: linguagem, lógica, fenomenologia e ética. No núcleo de linguagem, organizado por mim, nosso objetivo é apresentar avanços na tese da continuidade entre vida, mente e linguagem, que é um desenvolvimento do enativismo, e também trazer avanços na relação entre a psicologia ecológica e o enativismo nas explicações sobre a linguagem. O núcleo conta com a atuação dos pesquisadores César Meurer (UENF), Eros Carvalho (UFRGS), Elena Cuffari (F&MC), Hanne de Jaegher (MLE) e Vitória Coelho (UFSM). Como eu mencionei há pouco, a psicologia ecológica é uma abordagem sobre a percepção que enfatiza a relação direta entre o organismo e seu ambiente e o conceito de possibilidade de ação é um conceito chave que tem muito a oferecer para o desenvolvimento do enativismo. A ideia é que o ambiente oferece possibilidades de ação para o organismo dependendo de suas características e capacidades. Assim, um copo é pegável para um humano, mas não para um cachorro.

Nós podemos aplicar essa percepção ecológica para a lógica, por exemplo. Nós usamos raciocínios para lidar com possibilidades normativas de ação, isto é, com regras apresentadas em nosso ambiente, assim exercitamos nossas habilidades inferenciais e agimos no mundo. As possibilidades de ação normativas são então oportunidades para aplicarmos nossas habilidades inferenciais, para restringir ou permitir regras lógicas, isto é, inferimos necessidade, possibilidade, implicação, negação. No núcleo da lógica, organizado pelo pesquisador Frank Sautter (UFSM) e que conta com a atuação de Marcos Silva (UFPE), Bruno Mendonça (UFFS) e Felipe Abrahão (Unicamp), o objetivo é oferecer uma explicação da normatividade a partir de práticas linguísticas, explicando a construção de sistemas de inferências lógicas e a criação de conhecimento formal e científico no contexto de sistemas cognitivos em interação num mesmo ambiente. Em outras palavras, pretende-se mostrar, a partir da ideia de possibilidade de ação, como é possível explicar raciocínios e regras lógicas defendendo uma concepção corporificada de cognição.
No núcleo de fenomenologia, organizado pelo pesquisador Robson Ramos dos Reis (UFSM) e que conta com a atuação de Bernardo Ainbinder (UoW), Eder Santos (UEL), Marcelo Lopes (UFSM), Alexandre Gründling (UFSM), Emiliano Chagas (UFSM), Vitória Aloraldo (UFSM) e Glenda Satne (UoW), o objetivo é analisar a função do sentimento de confiança monádica na formação da experiência de possibilidades. A fenomenologia é um campo da filosofia que procura entender as estruturas da experiência vivida em primeira pessoa. A confiança monádica é um sentimento básico de confiança individual na coerência e estabilidade do mundo e na conexão entre as pessoas. Ela é um fundamento implícito da experiência e pode influenciar aquilo que experienciamos como possível. A chamada fenomenologia de horizonte elucida como a experiência humana está sempre orientada por expectativas e antecipações de possibilidades que estruturam a compreensão dos fenômenos vividos. Essa abordagem revela que as emoções não são meras reações subjetivas, mas modos de relação com o mundo, orientados por horizontes de sentido que contribuem para a formação de valor e significado nas situações experienciadas. A fenomenologia de horizonte expõe como a percepção e o julgamento estão enraizados em uma estrutura complexa e dinâmica de antecipação de atualizações de possibilidades que é determinante da formação de crenças e da adesão a estilos de justificação.
No campo da ética, organizado pelo pesquisador Marcos Fanton (UFSM) e integrando pesquisas de Flávio Williges (UFSM), Eduardo Vicentini de Medeiros (UFSM), Raquel Canuto (UFRGS), Camila Barbosa (UFSC) e Paola Mantovani (Unicamp), o objetivo específico é analisar como determinados aspectos afetivos, morais e de bem-estar dos indivíduos são corporificados e modelados pelo ambiente social. Ao unir a perspectiva do enativismo com a filosofia social e política, é possível considerar a influência de estruturas sociais de opressão e privilégio e do ambiente social em processos corporificados e situados, interações sociais e até mesmo estados de saúde e bem-estar dos indivíduos e grupos populacionais. O medo e a ansiedade, por exemplo, não são mais considerados meramente sentimentos internos, mas experiências corporificadas que emergem na interação entre corpo e ambiente. Em espaços sociais marcados pela branquitude, por exemplo, essas emoções podem se manifestar como formas de retração e alienação, resultantes de dinâmicas de exclusão racial. Essa perspectiva busca revelar como a opressão é vivida não apenas de forma cognitiva, mas também no nível sensorial e afetivo, e enraizada na relação corpo-ambiente.

5. Quais são os desafios mencionados no título do projeto? Tem a ver com mudanças de percepção?
Um pouco sim, porque temos que abrir mão de uma imagem bastante difundida de que a mente está na nossa cabeça, de que ela é interna, de que representamos um mundo que é externo a nós. Nós crescemos com essas ideias enraizadas mesmo que não paremos pra pensar nelas, elas estão presentes na nossa cultura, no modo como falamos sobre a mente e o corpo. Isso vem desde a modernidade com o chamado dualismo cartesiano que sugere que somos antes de tudo uma mente pensante e que se podemos pensar podemos também inferir nossa existência.
Mas pra quem está imerso na pesquisa isso não é tão saliente, nós já estamos mais acostumados a pensar em sistemas, a olhar para a dinamicidade e complexidade dos fenômenos, a olhar para a relação organismo ambiente e reconhecer como os fenômenos são processuais. Os desafios são mais sobre os próximos passos. Há desafios conceituais, metodológicos e empíricos/experimentais, que estão interconectados.
Cada um dos objetivos específicos que eu mencionei tem seus próprios desafios teóricos, por exemplo, no caso dos núcleos de linguagem e de lógica, o desafio é se os desenvolvimentos nos quais estamos trabalhando vão ser satisfatórios para explicar processos que são amplamente reconhecidos como processos representacionais, como a linguagem, o raciocínio e a matemática. Eu estou trabalhando diretamente em como a linguagem simbólica pode ser compreendida. Nós partimos da teoria dos corpos linguísticos e estamos propondo que o simbolismo é um desenvolvimento sofisticado que tem como base a condição essencial de valoração que seres vivos possuem na sua relação com o mundo. É fascinante! Essa proposta, se bem sucedida, pode contribuir para explicar como os processos de alta ordem que mencionei (o raciocínio e a matemática), podem ser explicados sem a necessidade de recorrer a representações mentais, que é o principal desafio do projeto. A questão geral é de se a abordagem enativista é bem sucedida em manter seus pressupostos na consideração da cognição de alta ordem.
No caso da área da ética, os desafios mencionados no título do projeto estão relacionados à análise das dinâmicas sociais corporificadas em contextos de opressão de gênero e racial como os vivenciados por pessoas negras em espaços sociais predominantemente brancos ou relações de gênero que envolvem sujeição. Esses desafios não dizem respeito diretamente a mudanças de percepção individuais ou emoções particulares sentidas por indivíduos, mas sim a compreender como emoções (medo, raiva, ansiedade, ressentimento) emergem na interação entre corpo e ambiente. O projeto propõe uma abordagem que desloca o foco das emoções como estados internos para sua dimensão relacional e corporificada, mostrando como essas experiências afetam a sociabilidade e os grupos sociais e reforçam estruturas de exclusão social. Assim, o desafio principal é reinterpretar o impacto das emoções na ética e na estrutura social a partir dessa perspectiva relacional e corporificada.
Então os desafios conceituais vão desde modos de reinterpretar fenômenos a partir de uma perspectiva relacional até propor desenvolvimentos conceituais filosoficamente e cientificamente relevantes que não só contribuam para o avanço da teoria, mas que também façam sentido em um enquadramento mais amplo de interpretação dos fenômenos para possível investigação empírica.
Por ser uma abordagem que procura uma sintonia fina com as ciências cognitivas, uma preocupação permanente é a de manter a pesquisa cientificamente informada e filosoficamente relevante para as ciências e pesquisas empíricas, seja absorvendo ou questionando reflexões derivadas de experimentos, ou então fornecendo elementos para reconcepção de investigações.
6. Há resultados do estudo? O que se pretende produzir com o projeto?
No caso da linguagem, nós trabalhamos recentemente com o conceito de intencionalidade, que é um conceito importante em filosofia da mente, pois tradicionalmente cumpre um papel chave de conexão entre o pensamento e aquilo que é dito. A intenção comunicativa, em concepções clássicas, pressupõe uma intenção coerente, estável, individual, interna e anterior como um estado cognitivo ou mental, assim como se pressupõe na teoria da mente que mencionei anteriormente. Nós argumentamos que essa estrutura negligencia a natureza co-autorada das intenções comunicativas, com base na ideia de produção participativa de sentido, que também mencionei acima. A ideia é que atos significativos co-autorados, isto é, em que ambos participam (falante e ouvinte), são paradigmáticos da atividade comunicativa humana e entre espécies. Enunciados, por nossa definição, são expressivos, relacionais e funcionam sem a necessidade de inferirmos as supostas intenções comunicativas no sentido tradicional. Em um artigo escrito pela Dra. Elena Cuffari e por mim (que será publicado em breve na revista Synthese, sob o título Intentions in Interactions: An Enactive Reply to Expressive Communication Proposals [Intenções em interações: uma resposta enativa à propostas de comunicação expressiva]), nós propomos a possibilidade de subjetividade dialógica e nos referimos a estudos com animais para mostrar que algumas espécies também exibem essa característica.
Uma contribuição da fenomenologia da intencionalidade de horizonte para a abordagem enativista é mostrar como as emoções e os sentimentos de background (base ou pano fundo) emergem de interações situadas, esclarecendo como as emoções e os sentimentos de background não são estados internos isolados, mas formas de engajamento pré-reflexivo com o mundo, estruturadas por sistemas de tipos de possibilidade que orientam a ação e a percepção.
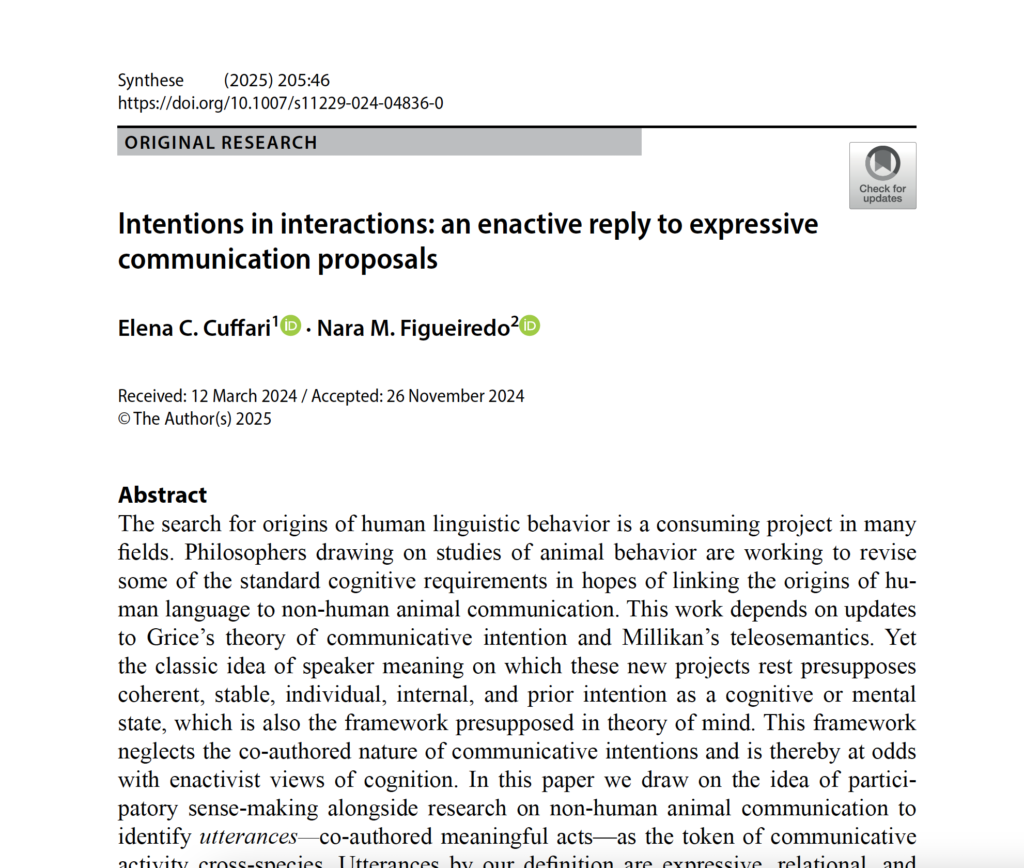
Outro passo importante do trabalho que já realizamos foi uma aproximação do enativismo com a análise de conflitos morais de Joshua Greene. Greene analisa conflitos morais entre grupos explorando como as diferenças culturais e os valores distintos podem gerar tensões sociais. Ele propõe que muitos desses conflitos são frutos de um “paradoxo trágico”, em que os mesmos mecanismos evolutivos que promovem a cooperação dentro de grupos contribuem para a desconfiança e a competição entre grupos. Os conflitos morais entre grupos podem ser vistos também como fenômenos corporificados, manifestos na interação entre corpos e ambientes marcados por dinâmicas de exclusão racial ou de gênero. Emoções seriam assim experiências afetivas que emergem relacionalmente, reforçando barreiras entre “tribos morais” e perpetuando estruturas de exclusão. Em breve será publicado o artigo Tribus morales y emociones: Un análisis crítico de la metamoralidad utilitarista de Joshua Greene (Tribos morais e emoções: uma análise crítica da metamoralidade utilitarista de Joshua Greene), na revista Comprendre da Catalunha, autorado pelo Prof. Flávio Williges, em que ele questiona a eficácia do raciocínio utilitarista para unificar tribos morais e, em vez disso, recomenda focar em sentimentos compartilhados.
Muito da nossa produção é teórica e cada um dos pesquisadores, individualmente ou em parceria, trabalha com especificidades de uma subárea da pesquisa. Muito ainda está em andamento, mas um outro desenvolvimento que é interessante mencionar aqui é resultado de uma colaboração com os pesquisadores Giovanni Rolla (UFBA) e Guilherme Vasconcelos (UFMG), que será publicada em breve na revista Language Sciences, sob o título Participatory sense-making and knowing-in-connection in VR (Produção participativa de sentido e conhecimento por conexão em realidade virtual). Neste texto abordamos o conceito enativista de produção participativa de sentido, que é um dos pilares do núcleo de linguagem do projeto, no contexto das experiências em realidade virtual.
Como mencionei, nosso foco é o desenvolvimento teórico, mas a produção resultante do projeto inclui a formação de conexões interdisciplinares de pesquisa, a implementação de laboratório de pesquisa empírica, a realização de workshop, a realização de evento de encerramento, apresentações de trabalhos em eventos científicos, orientações de pesquisa na graduação e pós-graduação, fortalecimento de redes de cooperação internacional, publicações de artigos em revistas científicas e capítulos de livros e divulgação científica.

Gostaria de aproveitar para agradecer imensamente o apoio do CNPq, da Fapergs, do departamento de Filosofia da UFSM e todas as pessoas que estão direta ou indiretamente participando dessa jornada.
Quero agradecer especialmente aos membros do projeto: Elena Cuffari, César Meurer, Vitória Coelho, Hanne de Jaegher, Eros Carvalho, Róbson Reis, Bernardo Ainbinder, Eder Santos, Marcelo Lopes, Alexandre Gründling, Emiliano Chagas, Vitória Aloraldo, Glenda Satne, Frank Sautter, Marcos Silva, Bruno Mendonça, Felipe Abrahão, Marcos Fanton, Raquel Canuto, Camila Barbosa, Flávio Williges, Paola Mantovani, Eduardo de Medeiros.
Aos demais pesquisadores que se associaram a nós no decorrer do projeto e colaboram direta ou indiretamente com a pesquisa: Eduardo Souza, Juliana Tondolo, José Paulo Groff, Pedro Domingues, Bismark Bório, Silvia Wolff, Giovanni Rolla, Guilherme Vasconcelos, Ricardo Cavassane, Nicolás Hinrichs, Irene Senatore e Alejandro Fábregas-Tejeda. E aos pesquisadores que assinam capítulos do livro Enativismo: Cognição, Corpo, Ambiente e Ação: Jessica Vergara, Josie Siman, Thiago Sampaio, Pedro Noguez, Camila Leporace, Maria Luiza Ienaco, Jefferson Huffermann e Sabrina Ferreira.
Eu creio que esse projeto ainda vai render muitos frutos! Quem tiver interesse pode acessar a página do grupo de pesquisa que coordeno na UFSM: C&L/Enact.


